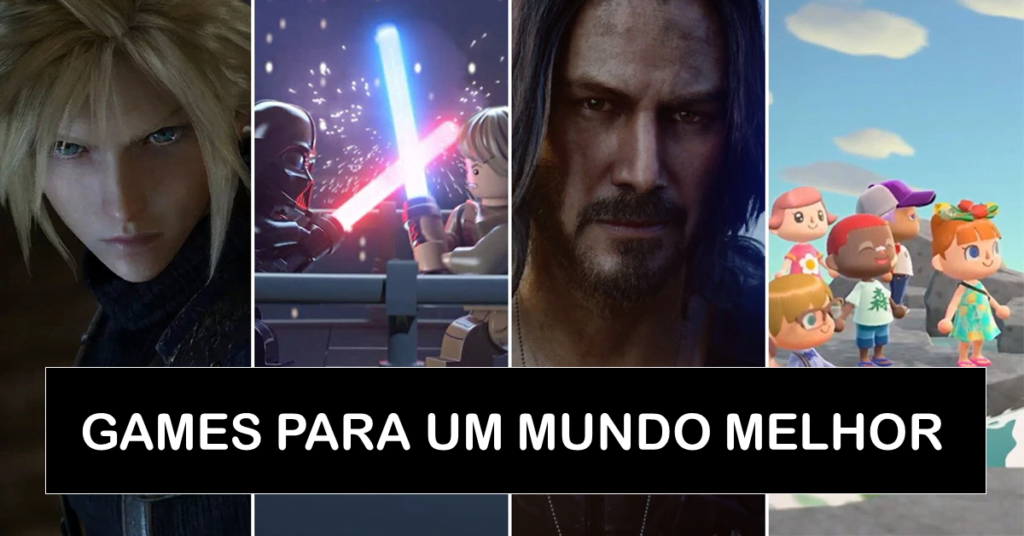
Recentemente comprei a versão mais atual de um game que conheço há alguns anos e, após a instalação, meu intuito era caminhar pelas ruas “de lá”, observando novos gráficos que o game apresentaria, em vez de entrar unicamente cumprir as missões de forma frenética.
Ao iniciar o jogo, para minha surpresa, ele exigia o cumprimento já da primeira fase, impedido que eu conseguisse dar a minha volta pela cidade virtual.
Então lembrei que esse era um padrão seguido por outros jogos: a primeira fase geralmente possui um cenário limitado, com poucas tarefas específicas, e que as fases seguintes possuíam um número maior de possibilidades.
Ao conversar com um amigo e colega de trabalho, ele confirmou que nesse game, apenas após a primeira fase era possível cumprir o meu objetivo pessoal de conhecer os novos detalhes do game.
Comecei então o game com essa dupla visão de liberdade e de cumprir as regras da primeira fase, e o interessante é que, enquanto jogava, com o jogo dizendo “faça isso, faça aquilo”, exigindo o cumprimento de pequenas tarefas e eu, consecutivamente, cumprindo-as, meu descontentamento por não aproveitar o ambiente com mais liberdade foi sendo aos poucos substituído pelo prazer de receber pequenas tarefas, cumpri-las e aos poucos avançar no jogo. Foi então que, ao perceber o que estava acontecendo, imediatamente comecei a cruzar essa percepção com outros entendimentos da nossa realidade, e foram surgindo diversos raciocínios, como você pode ver nas linhas abaixo.
Games como indutores do comportamento individual e coletivo
Você já percebeu como é difícil proporcionar o entendimento de contextos maiores e de conhecimentos complexos para pessoas?
No momento que escrevo esse texto, ainda estamos enfrentando a pandemia, e aqui no Brasil e no mundo percebemos aquele algumas regiões possuem um controle maior da expansão da covid-19, em outras o ambiente se aproxima do caos, e em outras ainda percebemos a existência de planos para o enfrentamento completamente sem sentido.
No entanto, independente da região no globo, um padrão que percebemos é a dificuldade se manter o isolamento social e, como consequência, a expansão da doença.
Certa vez, inclusive, assisti a uma reportagem que mostrava um camarada recusando-se a utilizar uma máscara, brigando e insistindo para entrar na farmácia, e alegando que tinha esquecido a máscara em casa: após muita briga o estabelecimento cedeu uma máscara para o cliente. Mas sabe o que ele fez? Coloco-a na cabeça como um chapéu, uma touca.
Ao pensar nesse tipo de comportamento, a única explicação que consigo imaginar é que essa pessoa não consegue aceitar que estamos em uma pandemia, em todos os riscos que o vírus causa à saúde de indivíduos em particular e para a humanidade, e nas consequências sociais e econômicas a médio e longo prazo.
Em outras palavras, ele não consegue assimilar esse ambiente de incertezas no qual estamos, e a saída que ele encontrou foi negar por completo a realidade.
Veja que essa na verdade é uma característica natural dos seres humanos, e que pode ser percebida em diferentes contextos: estudantes que, ao se depararem com um assunto muito complexo, preferem deixar os estudos para depois, e logomarcas que têm evoluído e tornadas mais simples para ficarem mais facilmente gravadas na mente dos consumidores são apenas alguns exemplos.
Um outro exemplo bastante interessante é a organização de componentes de software em uma user interface: colocar todos os componentes em uma única tela pode deixar o usuário confuso e potencialmente instigar nele o desejo de postergar a utilização daquele software, ao passo de que dividir os componentes em “pedaços” diferentes telas/páginas, pode tornar mais amigável a interface e melhorar a experiência de utilização do software.
Dessa forma, podemos chegar à conclusão de que quando mais divido for um assunto complexo, quanto maior o número de orientações no estilo passo a passo forem fornecidas, de forma às pessoas pensarem menos (lembra-se do livro “Não me faça pensar”?) e tiverem a sensação de serem guiadas, instintivamente, mais conforto elas sentem.
Pedro Calabrez, no vídeo abaixo, diz que isso tem a ver com o nosso contexto evolutivo. Segundo ele, nós evoluímos tendo como uma das diretrizes principais a economia de energia. Logo, quanto mais escopos, visões e realidades eu tiver que entender, e quanto maior o número de decisões eu tiver que tomar, mais eu gastarei energia e, instintivamente, menos eu ficarei confortável.
Isso, inclusive, está diretamente relacionado com o raciocínio de que toda zona de conforto nos afasta do sucesso, da melhora contínua. Um dos pensadores que percebo mais expressar esse raciocínio, inclusive, é o Leandro Karnal.
Nesse sentido, é importante deixar claro duas conclusões:
CONCLUSÃO 1: tendo como objetivo orientar um grande número de pessoas a realizarem alguma tarefa em específico, talvez a melhor forma possível seja utilizando games.
CONCLUSÃO 2: mudando a visão para um olhar mais detalhado, olhando indivíduos em vez de agrupamentos, essa é uma prática prejudicial a médio e longo prazo, pois faz com que o indivíduo, em vez de crescer, pensar por si próprio de forma crítica diante da realidade e tomar suas próprias decisões, fique na verdade refém do que outros o orientam a fazer.
CONCLUSÃO 3: Dependendo de quem elabora as orientações, o fruto do trabalho de agrupamentos orientados pode ser bom ou ruim. Basta lembrar dos líderes dos diversos impérios e governos que existiram durante a história da humanidade – alguns muito bons, outros não tão bons, e outros catastróficos.
Games como narrativa para convencimento de grupos de pessoas
Yuval Noah Harari, no seu livro “Sapiens”, fala de muitos dos fatores que influenciaram o desenvolvimento físico e comportamental dos seres humanos. Se você não tem a possibilidade de lê-lo nesse momento, indico que você ouça o excelente podcast disponibilizado pela ResumoCast, que você pode ver logo abaixo:
Especificamente no tempo 14m37, você encontra o seguinte trecho:
“Para que uma narrativa produza frutos, para que uma narrativa seja acreditada e permaneça sendo acreditada, ela precisa ser repetida exaustivamente, geração por geração, daí a educação, daí a igreja, daí o chamado processo civilizatório. O processo civilizatório é justamente essa repetição exaustiva de um grupo determinado de narrativas para que os sapiens não parem para pensar na vida que ele leva, e ele ache que essa vida desceu escrita do céu, e que a vida é assim mesmo.”
Dessa forma, podemos entender também que, além da divisão de assuntos complexos em pequenos pedaços e colocados em formato de passo a passos a serem seguidos, uma poderosa ferramenta dos games para influenciar o comportamento das pessoas é a história.
Além disso, como games geralmente são jogados diversas vezes, além do impacto da história em si, temos também o impacto da sua repetição – o que talvez, atualmente, seja mais um fator negativo que positivo em muitos casos.
Você muito provavelmente já deve ter ouvido a frase: “Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive”. Também já deve ter entendido que ela se aplica não somente a pessoas, mas também a livros e, no nosso contexto, games – especificamente histórias de games.
Um grande e crescente número de adolescentes, cada vez mais jovens, torna-se quase dependentes de jogos digitais. Já ouvi falas de mães que diziam: “Meu filho de dez anos acorda e, antes de tomar o café da manhã, já corre para o jogo”.
Muitas dessas mães sequer conseguem entender a história de background que o jogo traz, qual o papel do jogador ou jogadores principais e quais as ações que o jogo influencia os usuários a tomarem.
No jogo que comprei recentemente, infelizmente e involuntariamente, já no começo tive que dar um chute nas costas de um pobre coitado. Já no começo… Imagina o que o jogo não instiga os usuários a fazerem até a sua conclusão?!
Você pode até dizer: “Ahh, mas o jogo diz o limite de idade para os usuários etc.”.
Tudo bem, concordo. Mas imaginar que todos os pais, antes de comprarem o jogo, vão observar o limite de idade, entender isso como algo relevante para um “simples e inofensivo jogo de computador”, e chegar a uma conclusão plausível, é ignorar a realidade de um país onde pais permitem que crianças de 8 anos de idade tenham perfil no Instagram e uma conta no WhatsApp. Concorda?
No entanto, Games em si, assim como Inteligência Artificial, em si, não são boas ou ruins. São apenas ferramentas. O que as caracteriza como algo bom ou ruim é a utilização que damos a essas ferramentas, e é nesse ponto que enfatizo o título do livro:
E se nos esforçarmos para criar jogos melhores, jogos com histórias melhores e com objetivos melhores?
E se criarmos, por exemplo, jogos mais dinâmicos e pervasivos que, além da história de background, efeitos e mecânica, incentivassem as pessoas a utilizar máscara e proteger-se contra o coronavírus, dando pontos positivos para quem lembra-se de pegar sua máscara ao sair de casa, aprende a “desviar do vírus” quando alguém espirra e perde pontos quando utiliza a máscara de forma incorreta e acaba se contaminando?
Veja que, com um game, além do recurso de ludicidade, ainda temos uma história de background que condiz com a realidade, uma dinâmica que procura mapear tarefas no cérebro, de forma que o que o usuário faça no jogo, ele possa também fazer na vida real devido à similaridade de contexto, temos um conceito complexo dividido em pequenas partes (fases do jogo), a exemplificação em ambiente virtual do que pode acontecer no mundo real e, finalmente, a repetição.
E se conseguíssemos aplicar a mesma lógica para todos os ensinamentos complexos, como a educação (independente no nível) e a transformação digital, por exemplo?
Como vimos, os jogos na verdade são também indutores de comportamento, fazendo com que pessoas mapeiem mentalmente os passos ditados pelo game. O ideal é que cada indivíduo aprenda a pensar por si, de forma crítica, ampliar seus horizontes e conseguir enxergar tanto a árvore quanto a floresta. No entanto, se isso não for possível, que possamos então utilizar os Games como ferramenta de indução do comportamento positivo das pessoas, das sociedades. Concorda?
Avançando um pouco mais
Jane McGonigal, em um TED realizado em 2010 (e que você pode ver logo após este parágrafo), disse que é possível e necessário que utilizemos os jogos para construirmos um mundo melhor (inclusive foi a partir desse TED que tirei o título deste texto).
Segundo ela, “10.000 horas é de fato um número interessante por duas razões. Primeira de todas, para as crianças nos Estados Unidos 10.080 horas é exatamente a quantidade de tempo que você gastará na escola da quinta série até a faculdade se você for um aluno assíduo”. Isso em 2010. Imagina atualmente!
A ideia dela é simples: conseguirmos, de alguma forma, utilizar todas essas horas de jogo, jogadas por todas as pessoas, de forma direcionada a resolver problemas da humanidade – ou seja, uma espécie de crowdsourcing com Games no background.
Tecnicamente é possível, já que estamos vivendo na era da Web 3.0, ou web programável, em que diversos softwares menores, através das APIs de comunicação, trocam informações e se complementam a outros softwares, o que é chamado por Silvio Meira e outros pensadores de Social Machines.
Então está aí uma proposta legal: Games + Crowdsourcing + Social Machines para resolver problemas do mundo.
Topa o desafio?
Espero que sim. A final, o mundo precisa de mais “cabeças pensantes”. O mundo precisa de você, mais que nunca, inclusive.
Ahh, e se você curtiu a vibe de cruzar conhecimentos de contextos diferentes para tirar insights legais, então você vai achar muito massa o artigo que fiz de título “Minha empresa parou de funcionar na pandemia. E agora?”. Nele, eu “passo no liquidificador” os contextos da civilização mesopotâmica, o comportamento de formigas e os acontecimentos de micro e pequenas empresas no Brasil.
Gostou? Então dá uma passadinha lá! Basta acessar esse link.
Então por enquanto é só. Abraços, e até a próxima!
Everton Patricio.
